Orientalismo e autoria feminina em O livro de travesseiro

O Livro de Travesseiro de Sei Shônagon, escrito entre o fim do século X e o início do XI, possui hoje incontestável status canônico no contexto da literatura japonesa. Ao mesmo tempo, é o texto japonês mais traduzido do mundo, ocupando lugar estável na lista de títulos que são considerados como pertencentes à Weltliteratur. A adaptação cinematográfica de 1996 — O Livro de Cabeceira, de Peter Greenaway — é, na visão de Evando Nascimento, “um dos dez filmes mais importantes do século XX” (Nascimento, 2004, p.33).
A autora, Sei Shônagon (c.965 d.C. – ?) assumiu em 993 o posto de dama-de-honra da Imperatriz Teishi. Nesse mesmo ano, o pai de Teishi, Fujiwara no Michitaka, poderoso regente, ascendeu ao cargo de chanceler. Em seus primeiros anos, o salon a que pertencia Sei Shônagon foi o mais influente e de maior esplendor na Corte Imperial de Heian (atual Quioto), e o prestígio do círculo de Teishi está registrado nas páginas de O Livro de Travesseiro. A autora descreve eventos solenes, a beleza das roupas da Corte e o refinamento e sensibilidade da Imperatriz — incluindo inúmeras anedotas que confirmam a cultura e inteligência da jovem alteza.
O esplendor do partido a que pertencia Sei Shônagon, no entanto, durou pouco. O Chanceler Michitaka, pai de sua senhora, morre em 995. Korechika, irmão da Imperatriz, é exilado em 996. O partido rival, liderado por Fujiwara no Michinaga (irmão mais novo de Michitaka), consegue afastar Teishi do Palácio Imperial. A filha do líder rival, Shôshi, passa a ser a favorita do Imperador. Sei Shônagon acompanha sua senhora em desgraça, atuando como sua dama-de-honra até a morte de Teishi. Essas reviravoltas não são mencionadas diretamente em O Livro de Travesseiro, com apenas algumas alusões feitas ao afastamento da Imperatriz. Em uma parte do texto escrita posteriormente, Sei Shônagon descreve o luxo do seu círculo e afirma, melancólica, que ninguém poderia ter previsto o que aconteceria depois — mas ela não narra a catástrofe. Quase nada se sabe sobre a vida que a autora teria levado depois de deixar a Corte. Algumas anedotas sobrevivem, mas são consideradas apócrifas.
O Livro de Travesseiro é hoje descrito como o primeiro exemplo que se conhece de um gênero literário nativo do Japão, o zuihitsu. Esse tipo de texto tem por pressuposto (ou, por assim dizer, mystique) uma ausência de plano ou desígnio por parte da autora, que vai anotando, literalmente “ao correr do pincel”, tudo o que lhe vem à cabeça (um teórico mais desconfiado poderia afirmar que a autora meramente cria uma ilusão de espontaneidade). O zuihitsu é semelhante ao diário, mas não exige periodicidade fixa ou sequer assiduidade; às memórias, pois pode conter relatos do passado; e à poesia, por suas associações e trechos de inspiração lírica. Em sala de aula, meus alunos muitas vezes associam esse gênero textual à crônica brasileira. Alguns autores comparam o zuihitsu à escrita para a Internet (Midorikawa, 2008). No entanto, a classificação da obra de Sei Shônagon como zuihitsu só ocorreu muitos séculos depois de sua morte, e a própria definição desse gênero literário precisa ser problematizada.

O livro de travesseiro de Sei Shônagon
Tradução de Makura no Sôshi [枕草子], de Sei Shônagon [清少納言] (séculos X–XI).
SEI, Shônagon. O Livro de Travesseiro. Porto Alegre: Escritos, 2008.
A época em que O Livro de Travesseiro foi escrito é referida como a “idade de ouro dos diários femininos da Corte Imperial”. As mais importantes obras literárias desse período foram escritas por mulheres. Ainda que no domínio da poesia sempre tenha havido autoras no Japão, até esse momento histórico a prosa era escrita em chinês (língua de prestígio) e principalmente por homens — ou assim parece, a julgar pelos textos que sobreviveram até nossos tempos. Muitas teorias buscam entender os motivos históricos e culturais para essa “primazia do feminino” em um período considerado por muitos como de central importância no desenvolvimento da identidade de um país tradicionalmente patriarcal. Pode-se sugerir que isso se deva aos resquícios de uma organização social anterior, matriarcal, nas ilhas nipônicas. Até a transição da pré-história para o período histórico propriamente dito, as mulheres tinham um status bastante alto nas instituições políticas do Japão. A importância da figura feminina sobrevive, de alguma maneira, na religião nativa (o xintoísmo), que sempre valorizou a atuação de sacerdotisas e de mulheres xamãs.
O principal motivo, no entanto, para a grande quantidade de textos de autoria feminina nessa época pode ser mais simples e prosaico. Muitas das atividades desempenhadas pelas mulheres da nobreza de médio escalão com cargos e responsabilidades na Corte envolviam o bom uso do pincel. A poesia tinha uma função social, e a comunicação por escrito era de extrema importância. Aquilo que se escrevia — e a maneira como se escrevia, desde a cor do papel escolhido, passando pela tinta, caligrafia, elegância da linguagem, e mesmo a maneira como se dobrava a mensagem — podia gerar prestígio não apenas para a autora, como para seus parentes e aliados. As cartas, poemas e anotações de antepassados eram uma importante relíquia de família. A escrita — assim como a roupa e o refinamento no trato social — era um fator de produção de diferença e distinção.
Pode-se também lembrar a evolução da hierarquia de gêneros e das políticas linguísticas no Japão como um dos fatores associados à atual valorização da escrita de autoria feminina da Era Heian. Os textos considerados como de pouca importância à época de Sei Shônagon (os diários femininos e as obras de ficção) hoje são vistos como centrais. Depois da consolidação, ao final do século XIX, do estado-nação japonês moderno, perderam prestígio muitos textos que eram mais valorizados pela tradição (textos em chinês, diários oficiais, textos religiosos e filosóficos) e aos quais apenas os homens tinham, em tese, acesso (Shirane, 2000). O país precisava dar destaque à produção em língua japonesa, e uma grande parte dos melhores exemplos de prosa em língua vernácula do período clássico havia sido escrita por mulheres. Além disso, os gêneros que anteriormente eram considerados como secundários (a ficção e o ensaio) ganharam centralidade devido à modernização do país: a ficção em prosa era considerada, no Ocidente que o Japão adotara como modelo, como a mais importante forma de literatura (o “romance”); e a imprensa mecanizada e a ascensão do jornal criaram uma gigantesca demanda por textos ensaísticos, o que levou a uma reivindicação do passado literário japonês, ressignificado para os tempos modernos da miscelânea.
O orientalismo britânico que informou as primeiras traduções de trechos e seleções de O Livro de Travesseiro era uma das expressões do expansionismo de um império que desejava conhecer e dominar tudo. Arthur Waley (1889–1966), o mais importante dos primeiros tradutores, trabalhava como Curador Assistente do Acervo de Gravuras e Manuscritos Orientais do British Museum, e aprendeu a ler chinês e japonês clássicos para ajudar na catalogação das obras do museu. Mesmo sem nunca ter ido ao Japão ou à China, o seu domínio da linguagem escrita era incontestável, e sua tradução de O Romance do Genji, assim como de seleções de poesia clássica chinesa, são ainda hoje consideradas por muitos como modelos de perfeição estilística. O British Museum, é claro, é a materialização arquitetônica do universalismo predatório do Império Britânico. Assim como a enciclopédia, as academias científicas, os arqueólogos e os exploradores, o museu deseja capturar o universo — não apenas: ele deseja capturar e ordenar o universo, de acordo com critérios filosóficos, científicos ou espúrios, como os descritos sardonicamente por Borges em “O Idioma Analítico de John Wilkins”.
O cosmopolitismo das grandes potências pode ser descrito como vendo “em cada horizonte de diferença novas periferias da sua própria centralidade, novas patologias por meio das quais a sua própria normatividade pode ser definida e deve se reafirmar” (Smith, 1988, p.54). Assim, no caso de Sei Shônagon, o fato de ela ser mulher e percebida como “namoradeira” rendeu muitas páginas constrangedoras escritas por homens europeus de uma mentalidade francamente vitoriana. O foco em roupas e protocolo (temas tidos como muito sérios para a sociedade da autora) também serviu para classificá-la como “apenas mais uma escritora mulher”, preocupada com cor, luxo e frivolidades. Esse tipo de leitura consegue encontrar uma universalidade no feminino definido como insignificante, o que não deixa de ser uma perversa façanha.
Não se trata aqui de contrapor o orientalismo à ideia de “literatura mundial”, em um binarismo de bons versus maus. Antes de tudo, é preciso reconhecer que os primeiros orientalistas britânicos e franceses tiveram um papel muito importante na disseminação e valorização dessas culturas, não apenas no exterior, como mesmo no Japão. É bastante conhecido o fato de que a estampa japonesa adquiriu o status de arte e passou a ser mais admirada pelos próprios japoneses a partir da apreciação europeia. As traduções do japonês de Arthur Waley foram cruciais para o desenvolvimento da ideia de literatura de autoria feminina de Virginia Woolf e para a renovação das formas poéticas e teatrais do ocidente por Ezra Pound e William Butler Yeats, para ficarmos apenas nos três nomes mais célebres e que tiveram contato direto com o trabalho de Waley. Na primeira metade do século XX, antes de surgirem as traduções para o japonês moderno, muitos japoneses entraram em contato com O Romance do Genji por via da tradução de Waley, considerada mais “fácil de ler” do que o obscuro japonês antigo de Murasaki Shikibu.
O orientalismo britânico informou, em parte, o orientalismo americano, que se tornou mais expressivo durante a Guerra do Pacífico (1942–1945) e o Período de Ocupação (1945–1952). Também essa variedade de orientalismo tem características predatórias, e parece preocupada em instrumentalizar conhecimentos para facilitar o domínio. Talvez a mais importante obra escrita sobre o Japão por um orientalista seja O Crisântemo e a Espada (1946; a edição brasileira é de 1972), da antropóloga Ruth Benedict, que contou com a colaboração do Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos, em seu projeto de traçar um retrato do “espírito japonês” de maneira a facilitar o trabalho de pacificação do país derrotado pelas tropas do General MacArthur. Nessa mesma direção, os tradutores americanos dos anos 1940–1970 demonstram uma preferência por um Japão nostálgico, antigo, clássico — o Japão de antes da Segunda Grande Guerra (Venuti, 1997), que de alguma forma era considerado como a chave da compreensão da “essência nacional”. Ou, como sintetiza Damrosch:
A recepção de textos do Japão [nos Estados Unidos…] teve frequentemente mais a ver com os interesses e necessidades americanos do que com uma verdadeira abertura para outras culturas. Ainda hoje, obras estrangeiras raramente são traduzidas nos Estados Unidos, o que dirá distribuídas amplamente, a menos que elas reflitam preocupações americanas e que estejam confortavelmente de acordo com as imagens americanas da cultura estrangeira em questão.
Damrosch, 2003, p.17–18
Essa preferência determinou, por exemplo, a escolha de Kawabata Yasunari para ser o primeiro japonês a receber o Nobel de Literatura, em 1968 (no lugar de Mishima Yukio, tido como “muito ocidentalizado”). Além disso, foi o exemplo dos Estados Unidos que definiu, ao menos até o fim do século XX, quais títulos japoneses seriam traduzidos — indiretamente, por via do inglês — e publicados no Brasil. Com raríssimas exceções, até os anos 1990, a população brasileira de descendentes de japoneses não teve espaço de atuação no mercado de traduções literárias do Brasil — o que não deixa de ser surpreendente, pois, nas poucas vezes em que intelectuais japoneses ou brasileiros de origem japonesa se envolveram na escolha de títulos, tradução e publicação de obras do Japão no Brasil, a qualidade do livro obtido foi muito superior à da produção nos moldes “normais” de expectativa do polissistema.
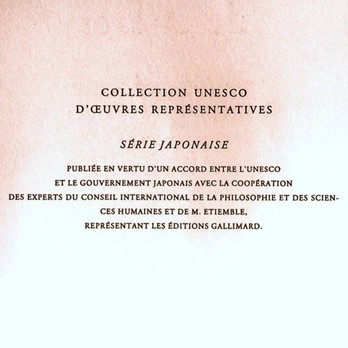
Quando Kawabata ganhou o Nobel, já havia outra tendência em política internacional guiando, há duas décadas, os rumos da Literatura Comparada e da Weltliteratur: a Guerra Fria. O Japão era (é) o único país do mundo a ter sofrido um ataque com bombas atômicas, e entre os anos 1950 e 1970 era visto como um símbolo do desejo de paz (Hiroxima meu Amor, de Alain Resnais, é de 1959). A Guerra Fria teve profundo impacto sobre as concepções de cultura e sociedade no mundo. Essas transformações podem ser verificadas no ideal de cosmopolitismo desenvolvido por órgãos supragovernamentais, tais como a Organização das Nações Unidas (que é muitas vezes retratada como um lugar sombrio e perigoso por Hollywood, nessa época — por exemplo, em Intriga Internacional, de Hitchcock, também de 1959). A UNESCO deu início a um projeto de tradução de literatura (Collection UNESCO d’œuvres représentatives) já em 1948, buscando tornar a obra de autores de línguas não hegemônicas conhecida nas línguas oficiais de trabalho da ONU. Não por acaso, dentre as línguas representadas, a literatura japonesa tem um considerável número de títulos traduzidos. Também não por acaso, um dos consultores envolvidos na seleção de títulos para esse imenso catálogo da cultura humana foi René Étiemble, e é de Étiemble a recomendação de O Livro de Travesseiro para essa coleção.
Eu gostaria de poder dizer que também não é por acaso que “A Crise da Literatura Comparada”, de René Wellek, data de 1959, mas sinto que seria forçar muito o uso da cronologia no âmbito da exegese histórica. O texto-irmão desse, Comparaison n’est pas raison, de Étiemble, foi publicado em 1963. Esses textos, esses filmes, esses órgão internacionais, essas bibliotecas, essas traduções, ganham novo significado se pensamos que sobre eles pairava a constante ameaça da aniquilação total. Em outubro de 1962, durante o confronto que ficou posteriormente conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba, o mundo viveu por treze dias a real possibilidade da total extinção (a estratégia soviética e americana para a crise nuclear foi batizada de MAD — mutual assured destruction). A palavra “crise” do título do artigo de Wellek parece prenunciar o pesadelo político que ocorreria três anos depois; e o livro de Étiemble, com o seu “não é razão” do título, é talvez um dos últimos textos defendendo um ideal de humanismo racional, pré-1968, com argumentos cosmopolitas e internacionalistas, como uma forma de resistência frente à irracionalidade da ciência, da técnica e da guerra.


Nesse sentido, a Literatura Comparada da segunda metade do século XX, a abertura multidisciplinar, as tentativas de descentralização e o maior diálogo entre culturas parecem ser o fruto de uma real e vivida angústia — e a literatura japonesa se encontrava profundamente envolvida nessas novas propostas de criação de uma Weltliteratur. Visto de Paris ou de Washington, o Japão dessa época representava o espectro da destruição pela bomba nuclear, mas também um novo ideal de paz e a cultura do Outro radical. Por outro lado, o idealismo comparatista que se associa a essa visão de Weltliteratur tem seus limites:
Os comparatistas do pós-guerra […] tinham esperanças messiânicas de que a world literature seria a cura para os males do separatismo nacionalista, da xenofobia e da violência de fronteira — o que deixava implícita a ideia de que o comparatista seria um sucessor transcendental à visão estreita de mundo associada ao especialista monolíngue.
Damrosch, 2003, p. 282
Hoje sabemos que a xenofobia e a violência de fronteira não foram eliminadas pelo ideal de cosmopolitismo representado por órgãos internacionais como a ONU e a UNESCO. A tradução não conseguiu promover a paz e o entendimento entre os povos. No campo da literatura, o “especialista monolíngue” continua sendo a figura mais importante e a sua interpretação do texto literário é considerada como a que tem autoridade. A desconfiança com relação ao texto traduzido e a resiliência dos nacionalismos ao longo de todo o século XX parecem ainda ecoar o pessimismo de George Orwell, que afirmava, em 1941, que a literatura é “a única arte que não consegue atravessar fronteiras […] uma espécie de piada interna, com pouco ou nenhum valor fora de seu grupo linguístico” (1981, p.264).
A ideia goethiana de Weltliteratur também se esvaziou, substituída por aquilo que David Damrosch chama de global literature, “um tipo de literatura que seria lida apenas em terminais de aeroportos, sem ser afetada por nenhum contexto específico” (2003, p.25). A norma tradutória do mercado editorial brasileiro para obras japonesas reflete essa globalização: há uma ênfase em títulos de autores que já foram traduzidos para o inglês e observa-se um ideal de legibilidade e invisibilidade do tradutor, com traduções limitadas a uma linguagem neutra, dentro da norma culta e com um mínimo de notas de rodapé (preferencialmente, nenhuma). É dado destaque para temas que são geralmente associados ao Japão por um brasileiro: grandes centros urbanos, erotismo, solidão, gueixas, gatos, samurais, sushi, cultura pop. Espera-se que o tradutor trabalhe sozinho, de maneira intensiva e por empreitada, de preferência com romances — publica-se pouquíssima poesia, ensaio ou conto em tradução.
Por outro lado, se não se confirmou a previsão de que as literaturas nacionais seriam um dia substituídas por uma “literatura geral”, hoje se lê muito mais literatura traduzida de línguas não hegemônicas do que nas décadas anteriores. O Livro do Travesseiro (a tradução brasileira de 2013), por exemplo, desobedece alegremente diversas normas restritivas do mercado brasileiro de livros. Trata-se de uma tradução de um texto da Antiguidade, feito por uma equipe que levou onze anos para realizar a minuciosa tarefa, com um grande volume de paratextos explicativos e nada menos que 419 notas de rodapé. A linguagem não faz concessão às expectativas de uma prosa neutra, adotando uma precisão acadêmica e mesmo um preciosismo terminológico que poderiam repelir um leitor mais descompromissado. E, é claro, O Livro do Travesseiro não é um romance e a sua indefinição de gênero é uma de suas características mais centrais. Tudo isso levaria a crer que o caro calhamaço de mais de seiscentas páginas de prosa fragmentária e sem enredo seria um fracasso de vendas, o que não se confirmou.
Mesmo sendo uma obra “clássica”, portanto, a história de O Livro de Travesseiro, como literatura nacional e como Weltliteratur, é problemática; ela passa por questões como a reescritura do passado literário; o processo de criação do estado-nação; e a autoria feminina. A história da recepção ocidental do texto é uma história de apropriação (da voz feminina, da obra para outros fins). Ainda que seja considerado como ultrapassado no âmbito da teoria da tradução literária, o conceito de “fidelidade” poderia ser lembrado aqui como um contrapeso para as questões da distância cultural, da distância temporal, da performatividade de gênero e da apropriação da voz de um sujeito em desvantagem.
Isso tem consequências previsíveis (a profunda mutilação e inferiorização por que passou o texto na mão de tradutores homens e orientalistas), mas também leitores mais “bem intencionados” podem incorrer na desleitura da cultura não ocidental. Por exemplo, Sei Shônagon já foi descrita como uma protofeminista, e sua obra como erótica, o que tem reflexo inclusive na maneira como foi adaptada para o cinema. É interessante notar, também, que raramente os teóricos do cinema, da Literatura Comparada e da adaptação que já trataram do filme O Livro de Cabeceira relacionaram a adaptação a uma reflexão mais sistemática sobre o texto que foi adaptado; e quase todos os autores que tratam do livro sequer acham plausível considerar o filme como digno de menção.
Não se deve confundir, por outro lado, o ideal de Weltliteratur de Goethe com o “cosmopolitismo triunfalista” francês e inglês (Damrosch, 2003, p.9). Esse é um dos motivos por que, no título deste post, escolhi usar o termo em alemão, e não os mais corriqueiros world literature ou république mondiale des lettres. Guardadas as devidas diferenças, a maneira como Goethe percebia a literatura em língua alemã de sua época é semelhante a como as literaturas japonesa e brasileira se perceberam na modernidade: como culturas periféricas e provincianas.
O conceito goethiano de Weltliteratur foi importante para a recepção das literaturas da China e do Japão no Ocidente. Ele se encontra expresso em suas conversas com Eckermann:
Estou cada vez mais convencido de que a poesia é um patrimônio da humanidade [ein Gemeingut der Menschheit], e de que ela se revela em toda parte e em todas as épocas, em centenas e centenas de pessoas. […] Quando nós, alemães, não olhamos para além do estreito círculo à nossa volta, tornamo-nos fáceis presas de uma pedante presunção [pedantischen Dünkel]. O termo “literatura nacional” já não quer mais dizer muita coisa: anuncia-se a era da Weltliteratur, e todos devem portanto contribuir para que ela chegue mais rápido.
Goethe em conversa registrada por Eckermann, 1908, p.329
Goethe adverte que o “estreito círculo à nossa volta” pode nos tornar “fáceis presas de uma pedante presunção”. Além de buscar ativamente textos em línguas estrangeiras, antigas ou contemporâneas, Goethe também lia muitas traduções, e o diário de Eckermann enquadra o surgimento do termo Weltliteratur no contexto de uma conversa entre os dois sobre um “romance chinês”. Goethe considera a literatura do mundo como um “patrimônio da humanidade”, à semelhança dos ideais de respeito à diversidade cultural que a UNESCO tem procurado promover desde o fim da Segunda Grande Guerra.
No entanto, a conjuntura política e intelectual da Europa no início do século XIX — mesmo para a cultura germânica de Goethe, que ele percebia como periférica em relação aos centros de prestígio cultural — é muito diferente da vista panorâmica do mundo que se tem a partir da América Latina, terra de imigrantes. Um exemplo emblemático é o de Jorge Luis Borges, cuja formação intelectual foi em parte determinada pelos orientalismos britânico e francês e pela Weltliteratur alemã. Sabemos por seus textos para revistas e jornais que o autor argentino sempre se interessou pela literatura da China e do Japão, que ele leu em traduções para o alemão, francês e inglês. Ora, a atitude predatória da cultura europeia sofre uma dramática transformação quando redistribuída espacialmente desde Buenos Aires. Talvez resida aí a diferença entre a coleção de peças catalogadas de museu, vindas do mundo todo (os mármores do Parthenon, removidos e transportados para a Inglaterra em 1812, e nunca devolvidos) e a visão de mundo descentralizada e cosmopolita que se espera da Literatura Comparada: sim, o mundo precisa conhecer o mundo; sim, as línguas podem e devem ser traduzidas para outras línguas; mas esse conhecimento e essa tradução devem contribuir para uma progressiva dissolução dos centros de autoridade.
De certa maneira, pode-se dizer que isso já começa a mudar no Brasil — por exemplo, com o recente aumento no número de traduções diretas de literatura escrita em línguas periféricas, sem intermediários hegemônicos, como era comum até os anos 1990. A Biblioteca de Babel de Borges, afinal — e ao contrário do British Museum — não tem centro: o centro é sempre onde se está.
Ainda assim, no Brasil, a cultura japonesa, mesmo constituindo um importante aporte para a formação da nossa identidade, é, paradoxalmente, muito visível e, ao mesmo tempo, muito pouco conhecida. Por um lado, o Brasil é o país do mundo com maior número de descendentes de imigrantes japoneses. Essa presença pode ser verificada, quer na composição étnica do povo brasileiro, quer no histórico comunitário das regiões de imigração, assim como no grande número de escolas em que ocorre o ensino da língua japonesa no Brasil.
A arte e literatura japonesa foram importante elemento na renovação das formas e gêneros literários do modernismo, a começar pelo interesse que despertaram em autores como Woolf, Yeats e Pound. Na América Latina, a obra de Matsuo Bashô e de outros poetas japoneses teve grande impacto na formação de Octavio Paz, de Vicente Huidobro e de Jorge Luis Borges, entre outros. No Brasil, a poética tradicional japonesa encontra ecos na obra poética e na teoria de autores vinculados ao movimento concretista, como Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Paulo Leminski, e repercute na concepção minimalista do conto brasileiro contemporâneo, especialmente na obra de ficção de Dalton Trevisan e na produção gráfico-verbal de Millôr Fernandes, por exemplo. Essa relação consequente entre a literatura brasileira e a japonesa pode ser constatada desde as nossas vanguardas modernistas, na obra poética de Mário de Andrade e Oswald de Andrade.
No entanto, o ensino de literatura, assim como a reflexão sobre o cânone de obras fundamentais da literatura dita “universal”, em universidades brasileiras, continua a proceder como se o confortável rótulo de “ocidental” servisse tão bem ao caso brasileiro que dispensasse o exame de obras literárias do Japão. Comparada a outras literaturas nacionais de língua estrangeira, a japonesa é frequentemente ignorada na construção de cânones e de corpora de estudo. Ostensivamente, as justificativas mais comuns para esse “descuido” são de que o Japão não pertence ao Ocidente (como se a situação da América Latina dentro da tradição ocidental fosse ponto pacífico), e de que o fazer literário japonês não tem nenhum ponto de contato com a formação da literatura das Américas.
A posição “clássica” a esse respeito é de Otto Maria Carpeaux, em sua História da Literatura Ocidental, ao afirmar que os “documentos literários do Oriente” não fazem parte de “nossa cultura”, estão “fora dela”. Em sua argumentação, o autor acrescenta: das “literaturas orientais recebemos e conservamos definitivamente apenas algumas obras, traduzidas (se é lícita a expressão) de maneira antes inexata, razão por que se tornaram obras nossas” (aqui, ele está se referindo especificamente ao Livro das Mil e uma Noitese à “pacífica sabedoria chinesa”; mais adiante, ainda menciona Omar Khajjam [sic], Li Tai Po [sic] e as “grandes coleções orientais de fábulas e contos, das quais as literaturas medieval e renascentista se aproveitaram”). O autor conclui: o “que não provém” da “herança antiga” das literaturas grega, romana e judaica clássicas “continua inassimilável” (Carpeaux, 1959, p.161–162). Ora, esse argumento é problemático, pois parte da premissa de que o Ocidente é um sistema fechado, cujas formas e gêneros têm um protótipo “puro”, que pode ser “isolado” na sua origem — a história da literatura europeia. A peremptória palavra “inassimilável”, com suas conotações pseudo-antropológicas, também soa fora de contexto em uma história da literatura.
O segundo argumento, de que não há ponto de contato entre literatura japonesa e a da América Latina, perde força diante da história recente. Mais do que a literatura europeia, a japonesa é semelhante à da América Latina justamente pela percepção de que se trata de uma literatura periférica — ambas absorveram, entre os séculos XIX e primeira metade do XX, as formas e os gêneros da literatura moderna da Europa (romance, conto, drama realista, verso livre), e chegaram à maioridade pela via da apropriação (quando esses dispositivos estrangeiros passaram a servir a vozes locais). Além disso, a própria tradição ocidental, ao enfrentar sua crise modernista na primeira metade do século XX, passou a lançar mão de conceitos e formas do Oriente (filosofia zen-budista, haicai, teatro nô, diário literário, ensaio zuihitsu) da mesma maneira, criando uma via de mão dupla de influências e de diálogo de tradições.
Ao tratar O livro de travesseiro como obra literária no polissistema brasileiro e no mundial, procuro adotar a ideia de Weltliteratur como “uma forma de ler”, ou, como define Damrosch, não como “um cânone fixo de textos, e sim como um modo de leitura: uma forma de envolvimento distanciado com mundos para além do nosso lugar e do nosso tempo” (2003, p.281). Creio que o meu modo de leitura em específico precisa levar em conta as necessidades pedagógicas da pesquisa em Literatura Comparada no Brasil. A contribuição que eu tenho a dar não é da ordem da exegese monolíngue. Assim, não procurei entender a obra de Sei Shônagon “em seus próprios termos”, ou a partir da fortuna crítica japonesa. Não quero dizer com isso que o trabalho de especialistas monolíngues não seja importante. Quero justamente dizer que não pretendo ler um clássico da literatura japonesa com uma metodologia que outros usaram muito mais eficazmente do que eu.
Por outro lado — e é este o lugar de onde estou falando — a leitura de O Livro de Travesseiro é importante para mim profissionalmente, seja como tradutor, seja como professor de língua e literatura japonesa. A minha tarefa é apresentar a estudantes brasileiros um corpus de textos que é percebido como não fazendo parte da nossa cultura. Eu não acredito que essa tarefa se limite a realizar um resumo daquilo que no Japão se acha e se sabe sobre esses textos. O significado pedagógico do “envolvimento distanciado com mundos para além do nosso lugar e do nosso tempo” passa pela explicitação e discussão de questões brasileiras relacionadas à leitura de textos em tradução e à concepção de um contexto internacional no qual circula e se refrata a literatura do mundo. É essa a atitude que busquei manter frente aos textos de que falo, e é essa atitude que eu relaciono ao conceito de Weltliteratur.
Este texto é um excerto (adaptado) da minha tese de doutorado. Referência: CUNHA, Andrei. O Livro de Travesseiro: questões de autoria, tradução e adaptação. 2016. 299 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/134427>. Acesso em: 10 set. 2021.
Referências
Batalha, M.C. The Place of Foreign Literature in the Brazilian Literary System. Tradução para o inglês de John Milton. In: Milton, J. (Org.). Emerging Views on Translation History in Brazil, CROP (Special Edition), Revista do Curso de Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americana da FFLCH, USP, São Paulo, v.6. São Paulo: Humanitas, 2001. p. 109–128.
Benedict, R. O Crisântemo e a Espada: padrões da cultura japonesa. A edição não indica o nome da tradutora. São Paulo: Perspectiva, 1972.
Carpeaux, O. História da Literatura Ocidental. Rio de Janeiro: Cruzeiro, 1959.
Cinema Rise: Piitaa Guriinawei no Makura no Sôshi (edição especial). n.67. 19 jul. 1997. Tóquio: Ace Pictures, 1997. Programa do filme, à venda no cinema na época do seu lançamento no Japão.
Cunha, A. A mulher no centro do cânone: o caso de O Livro de Cabeceira. In: XIV Seminário Nacional Mulher e Literatura / V Seminário Internacional Mulher e Literatura, 2012, Brasília. Anais do XIV Seminário Nacional Mulher e Literatura / V Seminário Internacional Mulher e Literatura, 2012. 9 páginas.
Cunha, A. Autoria e Memória em Sei Shônagon. In: Ferreira, G.; Oliveira, M.; Bittencourt, R.; Gatteli, V. (Org.). ESPAÇO / ESPAÇOS — VI Colóquio Internacional Sul de Literatura Comparada. Porto Alegre: Instituto de Letras / UFRGS, 2015, p. 35–49.
Cunha, A. Notas do Tradutor. In: Sei, S. O Livro de Travesseiro. Tradução e notas de Andrei Cunha. Porto Alegre: Escritos, 2008. p.7–24.
Cunha, A. O Cineasta, o Filósofo, a Escritora e seu Tradutor: presença do clássico japonês em autores do modernismo e do pós-modernismo ocidental. In: XII Congresso Internacional ABRALIC, 2011: Curitiba, PR, 2011, Curitiba.
Cunha, A. Orientalismos Periféricos: Presença Literária do Japão no Brasil. In: Bittencourt, R.; Schmidt, R. (Org.). Fazeres Indisciplinados: Estudos de Literatura Comparada. Porto Alegre: UFRGS, 2013. p.13–25.
Cunha, A. Pele, pincel, papel e película: texto, corpo e representação em O Livro de Cabeceira. Translatio, v. 6, p.180–192, 2013. 12 páginas.
Cunha, A. Questões de Tradução e Adaptação em O Livro de Cabeceira. Tradterm, v.21, p.71-95, 2013d. 24 páginas.
Damrosch, D. What is World Literature?. New Jersey: Princeton University, 2003.
Eckermann, J. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, v.1. Leipzig: Insel, 1908.
Étiemble, R. Comparaison n’est pas raison — la crise de la littérature comparée. Paris: Gallimard, 1963.
Greenaway, P. The Pillow Book. Roteiro do filme. Paris: Dis Voir, 1998.
Hiroxima, meu Amor (Título original: Hiroshima, mon Amour). Direção de Alain Resnais. Produção de Anatole Dauman. Roteiro de Marguerite Duras. 1959. 1 filme (90min), son., P&B.
Intriga internacional (Título original: North by northwest). Direção de Alfred Hitchcock. Produção de Herbert Coleman e Alfred Hitchcock. Metro-Goldwyn-Mayer, 1959. 1 DVD (131 min), son., color.
Livro de Cabeceira, O (Título original: The Pillow Book). Direção de Peter Greenaway. Produção de Kees Kasander. Roteiro de Peter Greenaway, adaptado da obra Makura no Sôshide Sei Shônagon. Intérpretes: Vivian Wu; Ewan McGregor; Yoshi Oida; Ken Ogata; Judy Ongg, Hideko Yoshida. França, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo (produção); Hong Kong (Reino Unido, atual República Popular da China), Japão, Luxemburgo (locação); Manaus (dvd): Kasander & Wigman, Alpha Films, Studio Canal, Channel Four, Delux, Eurimages, Nederlands Fonds voor de Film (produção); Spectra Nova (dvd), 1996 (produção); s/d (dvd). 1 filme (120min), dvd, son., color.
Midorikawa, M. Reading a Heian Blog: A New Translation of Makura no Sôshi. In: Monumenta Nipponica, Tóquio, vol. 63, n. 1, 2008, p.143–160.
Nascimento, E. Essas “Coisas que fazem o coração bater mais forte”. In: Maciel, M. (org.). O cinema enciclopédico de Peter Greenaway. São Paulo: Unimarco, 2004. p.29–48.
Orwell, G. A Collection of Essays. Orlando: Harvest, 1981.
Said, E. Orientalism — with a new afterword. Nova Iorque: Random House, 1994.
Sarlo, B. Jorge Luis Borges, um escritor na periferia. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Iluminuras, 2008.
Sei, S. El Libro de la Almohada de la Dama Sei Shônagon. Tradução de Iván Pinto Román, Osvaldo Gavidia Cannon e Hiroko Shimono. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.
Sei, S. El Libro de la Almohada. Tradução de Jorge Luis Borges e María Kodama. Madri: Alianza, 2004.
Sei, S. El Libro de la Almohada. Tradução e notas de Amália Sato. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2001.
Sei, S. Makura no Sôshi. Notas de Ikeda Kikan. Tóquio: Iwanami Bunko, 1994.
Sei, S. Makura no Sôshi. Shinpen Nihon Koten Bungaku Zenshû, v.18. Edição de Kura Toshinori. Tradução de Matsuo Satoshi. Introdução, notas e apêndices de Nagai Kazuko. 7ª. edição. Tóquio: Shôgakukan, 2011.
Sei, S. Notes de Chevet. Tradução e notas de André Beaujard. Paris: Gallimard, 2000.
Sei, S. O Livro de Travesseiro. Traduzido por Andrei Cunha. Porto Alegre: Escritos, 2008.
Sei, S. O Livro do Travesseiro. Tradução de G. Wakisaka, J. Ota, L. Hashimoto, L. Yoshida e M. Cordaro. São Paulo: Editora 34, 2013.
Sei, S. The Pillow Book — The Diary of a Courtesan in Tenth Century Japan. Tradução e notas de Arthur Waley. Introdução e revisão de Dennis Washburn. Tóquio: Tuttle, 2011.
Sei, S. The Pillow Book of Sei Shônagon. Tradução, introdução e notas de Ivan Morris. Londres: Penguin, 1971.
Sei, S. The Pillow Book. Tradução, introdução e notas de Meredith McKinney. Londres: Penguin, 2006.
Shirane, H.; Suzuki, T. (Eds.). Inventing the Classics: Modernity, National Identity, and Japanese Literature. Palo Alto: Stanford University, 2000.
Smith, B. Contingencies of Value.Cambridge: Harvard University, 1988.
Venuti, L. A Tradução e a formação de identidades culturais. Tradução de Lenita Esteves. In: Signorini, I. (Org.). Lingua(gem) e Identidade: elementos pra uma discussão do campo aplicado. Campinas: Mercado das Letras, 1997. p.173–200.
Waley, A. Notes. In: Sei, S. The Pillow Book — the diary of a courtesan in tenth century Japan. Tradução e notas de Arthur Waley. Introdução e revisão de Dennis Washburn. Tóquio: Tuttle, 2011.
Wellek, R. A crise da Literatura Comparada. In: Coutinho, E. F.; Carvalhal, T. F. (orgs.). Literatura Comparada: textos fundadores. Tradução de Maria L. R. Coutinho. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 108–119.
